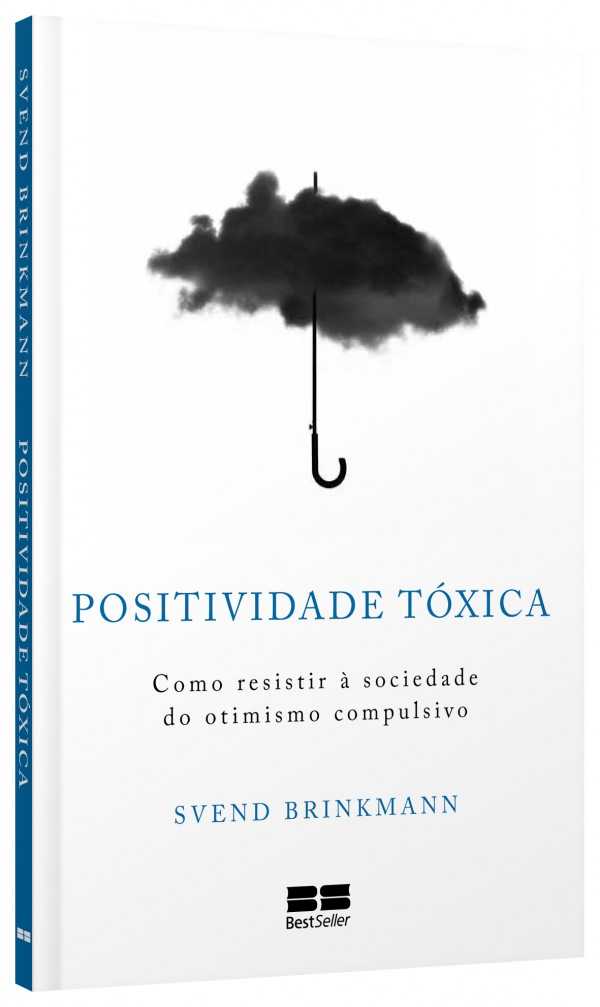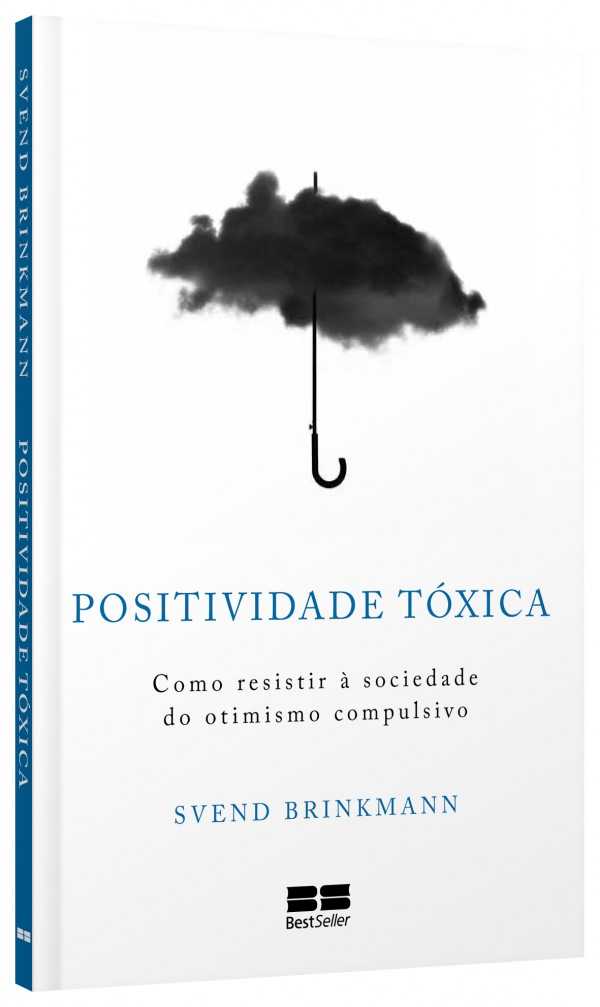
«A
ciência moderna, mecânica, rejeitava as ideias gregas de propósito, sentido e
valor na natureza. Em vez disso, a natureza era vista como um sistema mecânico
que funcionava de acordo com certos princípios de causa e efeito, conforme
formulados nas leis naturais. Como disse Galileu, “o Livro da natureza foi
escrito na linguagem da matemática”. Na medida em que existiam propósito, significado e valor, eles eram projeções
puramente psicológicas sobre uma natureza que, em si mesma, era desprovida de
tais características. Sem me aprofundar, é aí que encontramos a inovação da
ciência natural que – para citar a famosa frase do sociólogo Max Weber – “desencanta
o mundo” ao mesmo tempo que “reencanta” a mente humana. É aqui que nós, em
nossa era da modernidade, devemos buscar os aspectos essenciais da vida, isto
é, éticas e valores. No entanto, também há um preço a pagar: esses aspectos são
subjetivos e tendem ao psicológico, o que leva à ideia de importância do que
está dentro de você e à religião do eu, como a chamei neste livro» (143).
«Em
uma cultura na qual tudo está em aceleração, certa forma de conservadorismo pode
ser a abordagem verdadeiramente progressista» (20).
«De
fato, ser você mesmo não possui nenhum valor intrínseco. Em contrapartida, o
que tem valor inerente é cumprir suas obrigações para com as pessoas às quais
está conectado (ou seja cumprir seu dever). Se é ou não “você mesmo” enquanto
faz isso é essencialmente irrelevante. [...] Em minha opinião, é melhor estar
em dúvida sobre o que seus sentimentos viscerais significam – e sobre se você
encontrou ou não a si mesmo – do que segui-los e perseguir esse vago conceito
do eu de maneira bitolada. Quando aceitamos que o eu é algo impossível de
definir e os sentimentos viscerais são pouco confiáveis, a própria dúvida se
torna uma virtude» (37).
«A
ideia de “assumir o caráter” é importante. Ao contrário de conceitos da
psicologia popular como personalidade e competências (que você pode “trabalhar”
e “desenvolver”), o conceito de caráter se refere a valores morais partilhados.
O indivíduo que insiste em se manter firme e apoiar certos valores com base em
seu mérito inerente – e, consequentemente, é capaz de dizer não quando esses
valores são ameaçados – tem caráter» (58).
«O
filósofo Anders Fogh Jensen chamou nossa era de “sociedade dos projetos”, na
qual todas as atividades e práticas são concebidas como projetos frequentemente
transitórios, breves e recicláveis. Ele descreve como nós, os indivíduos dessa
sociedade, fazemos um overbook de
compromissos e projetos na tentativa de usar toda a nossa capacidade – mais ou
menos como fazem as empresas aéreas. Como nossos deveres se tornam meros “projetos”,
eles são temporários, e nós os rejeitamos se algo mais interessante surge em
nosso radar. Mesmo assim, a ideia predominante é ade que devemos dizer sim aos
projetos. A habilidade de arrancar um entusiasmado “Sim!” é uma competência
essencial na cultura acelerada, algo a se destacar em entrevistas de emprego. “Dizer
sim aos novos desafios” é considerado inequivocamente bom, ao passo que um
polido “não, obrigado” é interpretado como falta de coragem e indisposição para
mudar» (62).
«Na
cultura acelerada, a paz de espírito já não é um estado desejável. É um
problema» (63).
«Autenticidade
– [...] há muitas razões para ser cético em relação a esse conceito. Em vez de
tentar ser autêntico a qualquer custo, o adulto racional deve se esforçar para
manter um pouco de dignidade, o que presume a habilidade de controlar as
emoções» (76).
«O
conceito de neurose nem sequer consta nos sistemas de diagnóstico mais
recentes. Grosso modo, a neurose era
algo que afligia as pessoas em uma sociedade que exigia que elas se
enraizassem, que fossem estáveis e ajustadas. Se falhassem em atingir esse
objetivo, a neurose estava à espera, como um casaco pronto para ser vestido.
Desde então, a mobilidade substituiu a estabilidade, e a moral é baseada não na
proibição (você não deve), mas no comando (você deve). Previamente, as emoções
deviam ser reprimidas, mas agora devem ser expressas. [...] O problema já não é
o excesso de emoções, mas a falta. [...] O problema hoje não são as pessoas
(abertamente) flexíveis, mas as pessoas (abertamente) estáveis: elas não
possuem motivação suficiente, impulso e desejo de acompanhar as sempre demandas
por flexibilidade, adaptabilidade e autodesenvolvimento. A categoria de
transtorno mental que denota a falta d energia e vazio emocional já não é a
neurose, mas a depressão. Atualmente, os problemas não derivam de emoções e
desejos, ou seja, de querer demais. Em vez disso, houve uma mudança na maneira
como “demais” é quantificado. E isso continua a mudar em uma sociedade que
enaltece o desenvolvimento e a mudança como virtudes acima de todas as outras.
Na cultura acelerada, não há querer demais. Os vencedores são os que querem
mais» (77-78).
«Lá
no século XX, o filósofo Charles Taylor analisou como aquilo que chamou de
ética da autenticidade (ou seja, de que o importante é ser verdadeiro consigo
mesmo) podia resultar em novas formas de dependência, nas quais as pessoas que
estavam em dúvida sobre sua identidade precisavam de muitos guias de autoajuda.
O que as deixava em dúvida sobre a própria identidade e levava ao risco de
dependência? Taylor diz que isso ocorre porque começamos a adorar o eu de uma
maneira que nos isolava do mundo em volta: história, natureza, sociedade e qualquer
outra coisa originada em fontes externas. [...]. Se negamos a validade das
fontes externas, só o que resta como base para a definição do eu somos nós
mesmos. [...] É um paradoxo fundamental que a literatura de autoajuda celebre o
indivíduo, sua liberdade de escolha e sua autorrealização e, ao mesmo tempo,
ajude a criar pessoas cada vez mais viciadas em intervenções terapêuticas e de
autoajuda. Afirma-se que a autorrealização resulta em adultos autossuficientes,
mas, na verdade ela cria adultos infantilizados e dependentes que acham que a
verdade está no interior deles mesmos» (105-106).
«Conhecer
e ser capaz de lembrar do próprio passado é um pré-requisito para manter uma
identidade relativamente estável e, por conseguinte, para nossos relacionamentos
morais com os outros. Se queremos viver bem no sentido moral, é crucial que
saibamos como refletir sobre nosso passado. Mark Twain disse que a consciência
limpa é um sinal seguro de uma memória ruim» (124).
«O
filósofo francês Paul Ricoeur em sua obra seminal O si-mesmo como outro, tentou mostrar que as pessoas só podem ser
morais, no sentido estrito da palavra, se forem capazes de se identificar com
sua vida como um todo ou como algo que atravessa o tempo como um continuum e é mais bem entendido como
uma história, uma narrativa coerente. Ele pergunta, retoricamente: “Como o sujeito
de uma ação poderia dar um caráter ético a sua vida como um todo se essa vida
não estivesse reunida de alguma maneira, e como isso poderia ser feito, senão
na forma de narrativa?”» (125).
«É absurdo ser eternamente móvel,
positivo e focado no futuro, colocando o eu no centro de tudo na vida. Não
somente é absurdo, como também traz consequências negativas para os
relacionamentos interpessoais, uma vez que as outras pessoas são rapidamente
reduzidas a instrumentos a serem usados pelo indivíduo em sua busca pelo
sucesso, em vez de serem um fim em si mesmas, para com quem temos obrigações
morais» (134).
«Antigamente,
o problema era querer demais. Agora,
o problema é que nunca seremos capazes de fazer
o suficiente em uma sociedade que exige constantemente que façamos mais e mais»
(135).
«Fundamentalmente,
os seres humanos são vulneráveis, e não indivíduos fortes e autossuficientes.
Nascemos como bebês indefesos; frequentemente ficamos doentes; envelhecemos, às
vezes desamparados; e, por fim, morremos. Essas são as realidades básicas da
vida. No entanto, grande parte da filosofia e da ética ocidentais se baseia na
ideia de um indivíduo forte e autônomo, à custa de nossa fragilidade e
vulnerabilidade, que forma praticamente esquecidas» (138).
«Quando
o estoicismo chegou a Roma, a ênfase grega estava na importância da virtude,
enquanto a paz de espírito era uma preocupação secundária. Os estoicos romanos
também estavam preocupados com a virtude e o cumprimento do dever, mas
consideravam a paz de espírito um pré-requisito para isso. Você não pode
cumprir seu dever sem paz de espírito e, desse modo, ela era vista como parte
da estrada para a virtude» (142)
«Se
um leitor moderno perguntasse a Sêneca como aproveitar ao máximo sua curta
vida, a resposta não seria viver o maior número possível de experiências, mas
levar uma vida serena, com paz de espírito e as emoções negativas sob controle»
(145).
«Não
usei, mas indiretamente critiquei, a ênfase dos estoicos na importância do
momento. Não acredito que a humanidade viva principalmente no momento, mas no
tempo como uma estrutura extensa e contínua. O foco no presente e no poder do
indivíduo para determinar como será afetado pelo que acontece agora se parece muito com a atual onda
de autodesenvolvimento (“Você pode escolher ser feliz agora!”). Em minha visão, isso dá ao indivíduo uma responsabilidade
grande demais pela maneira como encontra o mundo. Não acredito que possamos
escolher livremente como seremos afetados pelo presente. Na extensão em que
isso é um ideal estoico, eu diria que o estoicismo deve ser desafiado. Somos,
em uma extensão muito maior do que os estoicos teriam aceitado, impotentes – e,
de fato, perceber isso pode ser uma fonte de solidariedade entre as pessoas»
(149).